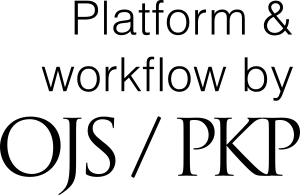Identificação dos níveis de stress em equipe de atendimento pré-hospitalar móvel
Palavras-chave:
Equipe de assistência ao paciente, Serviço médico de emergência, StressResumo
Este estudo, de natureza descritiva, transversal e quali-quantitativa, teve como objetivo identificar a presença e os níveis de stress em equipe multiprofissional de atendimento pré-hospitalar. A pesquisa foi realizada na unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Participaram da pesquisa 63 sujeitos de ambos os sexos, com idade média de 32,6 anos, abrangendo diversas categorias profissionais e diferentes turnos de trabalho. Os instrumentos utilizados foram ficha de caracterização sociodemográfica e Inventário de Sintomas de Stress de Lipp para Adultos. Foram encontrados os seguintes resultados: 31,7% dos sujeitos apresentavam sintomas de stress, 30,2% dos quais na fase de resistência, com predomínio de sintomas físicos; 66,7% não tinham outra atividade, sendo que 52,4% desse grupo não apresentavam sintoma de stress (Teste Exato de Fisher p=0,015). Concluiu-se que os indivíduos apresentavam baixos níveis de stress e que se utilizavam de mecanismos cognitivos ou comportamentais para minimizá-lo e manter o equilíbrio interno.
Downloads
Referências
Aguiar, K. N., Silva, A. L. C., Faria, C. R., Lima, F. V., Souza, P. R., & Stacciarini, L. M. R. (2000). O estresse em uma equipe militar de resgate pré-hospitalar. Revista Eletrônica de Enfermagem, 2 (2). Recuperado em maio 20, 2009, disponível em <http://www.fen.ufg.br/revista/revista2_2/ stress>.
Bachion, M. M., Peres, A.S., Belisário, V. L., & Carvalho, E. C. (1998). Estresse, ansiedade e coping: uma revisão dos conceitos, medidas e estratégias de intervenção voltadas para a prática de enfermagem. Revista Mineira de Enfermagem, 2 (1), 33-39.
Brasil. Ministério da Saúde. (2002, 12 de novembro). Portaria GM/MS n. 2048, de 5 de novembro de 2002. Aprova o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência. Diário Oficial da União, Brasília, Seção 1, pp.32-54.
Brasil. Ministério da Saúde. (2003, 6 de outubro). Portaria GM/MS n. 1864, de 20 de setembro de 2003. Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação do serviço de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU-192. Diário Oficial da União, Brasília. Seção 1, pp. 57-9.
Brasil. Ministério da Saúde. (2004a). Regulamento técnico dos sistemas de urgência e emergência. Brasília: Ministério da Saúde.
Brasil. Ministério da Saúde. (2004b). SAMU-192: o que é o SAMU? Recuperado em fevereiro 26, 2009, disponível em <http://www.saude.gov.br/samu-programa-nacional>.
Brasil. Ministério da Saúde. (2006). Política nacional de atenção às urgências (3ª ed). Brasília: Ministério da Saúde.
Calais, S. L. (2003). Diferenças entre homens e mulheres na vulnerabilidade ao stress. In M. E. N. Lipp (Ed.), Mecanismos neuropsicofisiológicos do stress: teoria e aplicações clínicas (pp.87-90) São Paulo: Casa do Psicólogo.
Calderero, A. R. L., Miasso, A. I., & Webster, C. M. C. (2008). Estresse e estratégias de enfrentamento em uma equipe de enfermagem de pronto atendimento. Revista Eletrônica de Enfermagem, 10 (1): 51-62. Recuperado em junho 5, 2009, disponível em <http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n1/v10n1a05>.
Camponovo Méier, O., & Morín Imbert, P. (2000). Síndrome de burnout en el personal de salud de un hospital público de la ciudad de Rosario. Investigación en Salud, 3 (1-2), 73-93.
Cox, T. (1987). Stress, coping and problem solving. Work and Stress, 1 (1), 5-14.
Cristina, J. A., Dalri, M. C. B., Cyrillo, R. M. Z., Salki, T., & Veiga, E. V. (2008). Vivências de uma equipe multiprofissional de atendimento pré-hospitalar móvel em suporte avançado de vida na assistência ao adulto em situação de parada cárdiorespiratória. Revista Ciência y Enfermeria, 14 (2), 97-105.
De Gasperi, P., & Radünz, V. (2006). Cuidar de si: essencial para enfermeiros. REME: Revista Mineira de Enfermagem, 10 (1), 82-7.
De Martino, M. M. F., & Cipolla-Neto, J. (1999). Repercussões do ciclo vigília-sono e o trabalho em turnos de enfermeiras. Revista de Ciências Médicas, 8 (3), 81-4.
Encalada, A. M., Zegarra, R. O., Malca, A. M. U., & Tello, M. V. (2007). Factores que desencadenan el estrés y sus consecuencias em el desempeño laboral en emergência. Revista Peruana de Obstetricia y Enfermaria, 3 (1), 50-57.
Ferreira, L .R. C., & De Martino, M. M. F. (2009). Stress no cotidiano da equipe de enfermagem e sua correlação com o cronótipo. Estudos de Psicologia (Campinas), 26 (1), 65-72.doi: 10.1590/S0103-166X2009000100007.
França, A. C. L., & Rodrigues, A. L. (2002). Stress e trabalho: uma abordagem psicossomática. São Paulo: Atlas.
Glassman, W. E., & Hadad, M. (2006). Psicologia: abordagens atuais (4ª ed.). Porto Alegre: Artmed.
Jacques, M. G. (2004) Abordagens. In L. B. M. Guimarães. Ergonomia: tópicos especiais, qualidade de vida no trabalho, psicologia e trabalho (pp.2.1-4). Porto Alegre: UFRGS.
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal & coping. Nova York: Springer.
Lipp, M. E. N. (Org). (1996). Pesquisas sobre stress no Brasil: saúde, ocupações e grupos de risco. Campinas: Papirus.
Lipp, M. E. N. (2000). Inventário de sintomas de stress para adultos de Lipp. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Lipp, M. E. N. (2003a). Mecanismos neuropsicofisiológicos do stress: teoria e aplicações clínicas. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Lipp, M. E. N. (2003b). O modelo quadrifásico do stress. In M. E. N. Lipp (Ed.), Mecanismos neuropsicofisiológicos do stress: teoria e aplicações clínicas (pp.17-21) São Paulo: Casa do Psicólogo.
Lipp, M. E. N., & Tanganelli, M. S. (2002). Stress e qualidade de vida em magistrados da justiça do trabalho: diferença entre homens e mulheres. Psicologia: Reflexão e Crítica,15 (3), 537-548
Malagris, L. E. N., & Fiorito, A. C. C. (2006). Avaliação do nível de stress de técnicos da área de saúde. Estudos de Psicologia (Campinas), 23 (4), 391-8. doi: 10.1590/S0103-166X2006000400007.
Martins, L. M. M., Bronzatti, J. A. G., Vieira, C. S. C. A., Parra, S. H. B., & Silva, Y. B. (2000). Agentes estressores no trabalho e sugestões para amenizá-los: opiniões de enfermeiros de pós-graduação. Revista da Escola de Enfermagem USP, 34 (1), 52-8.
McGowan, J., Gardner, D., & Fletcher, R. (2006). Positive and negative affective outcomes of occupational stress. New Zeeland Journal of Psychology, 35 (2), 92-98.
Murta, S. G., & Tróccoli, B. T. (2007). Stress ocupacional em bombeiros: efeitos de intervenção baseada em avaliação de necessidades. Estudos de Psicologia (Campinas), 24 (1), 41-51. doi: 10.1590/S0103-166X2007000100005.
Paschoal, T., & Tamayo, A. (2004). Validação da escala de estresse no trabalho. Estudos de Psicologia (Natal), 9 (1), 45-52.
Pafaro, R. C., & De Martino, M. M. F. (2004). Estudo do estresse do enfermeiro com dupla jornada de trabalho em um hospital de oncologia pediátrica da Campinas. Revista da Escola de Enfermagem USP, 38 (2), 152-60.
Santos, J. M., Oliveira, E. B., & Moreira, A. C. (2006). Estresse, fator de risco para a saúde do enfermeiro em centro de terapia intensiva. Revista de Enfermagem UERJ, 14 (4), 580-5.
Sanzovo, C. E., & Coelho, M. E. C. (2007). Estressores e estratégias de coping em uma amostra de psicólogos clínicos. Estudos de Psicologia (Campinas), 24 (2), 227-238. doi: 10.1590/S0103-166X2007000200009.
Sears, L. E., Murphy, L. A., Sinclair, R. R., Davidson, S. B., & Wang, M. (2008) Insufficient staffing: missed breaks, overtime and safe nursing care delivery. In Conference Abstracts of Work, Stress and Health - Health and Safe Work Throught Research, Practice and Partnerships. Washington, DC: NIOSH/SOHP/APA.
Selye, H. (1954). Stress, a tensão da vida. São Paulo: Ibrasa. Silva, E. A. T., & Martinez, A. (2005). Diferença em nível de stress em duas amostras: capital e interior de São Paulo. Estudos de Psicologia (Campinas), 22 (1), 53-61. doi: 10.15 90/S0103-166X200500100007.
Soerensen, A. A., Moriya, T. M., Soerensen, R., & Robazzi, M. L. C. C. (2008). Atendimento pré-hospitalar móvel: fatores de riscos ocupacionais. Revista Enfermagem UERJ, 16 (2), 187-92.
Stacciarini, J. M. R., & Tróccoli, B. T. (2000). O Estresse na atividade ocupacional do enfermeiro. Revista Latino Americana de Enfermagem, 9 (2), 17-25.
Thomaz, R. R., & Lima, F. V. (2000). Atuação do enfermeiro no atendimento Pré-Hospitalar na cidade de São Paulo. Acta Paulista de Enfermagem, 13 (3), 59-65.
Vieira, L. C. (2001). Estresse ocupacional em enfermeiros de um hospital universitário da cidade de Campinas. Dissertação de mestrado não-publicada, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas.
Zaldúa, G., & Lodieu, M. (2000). El burnout. La salud de los trabajadores de la salud. Revista del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología, 5 (1), 151-169.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2023 Sandra Soares MENDES, Luciane Ruiz Carmona FERREIRA, Milva Maria Figueiredo De MARTINO

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.